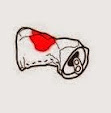O discurso simplista que nos «relata» as mazelas de cinco
séculos de colonialismo, não deve enclausurar-nos as vistas para o
processo (inacabado) de reconstrução de uma identidade africana, face
aos resquícios mentais do sistema colonial, que continuam pesando sobre
os povos do continente, despudoradamente alimentados por várias
ex-potências coloniais, como forma de manter a sua influência, impedindo
assim uma afirmação positiva do seu próprio caminho para o
desenvolvimento. Tentarei apresentar-vos uma leitura actual do
trabalho
de Luís Cunha, cujo título «A imagem do negro na banda desenhada do
Estado Novo» deu origem, na semana passada, a um interessante
artigo no
Observador. Um alerta para os cuidados a ter com a reprodução inconsciente e desinformada de estereótipos...
Portugal teve um colonialismo tardio, com uma
duração inferior a um século: ao tráfico efectuado em fortalezas, no
qual a soberania territorial não ia além do alcance de um tiro de
canhão, não se pode fazer corresponder este conceito. Só por pressão da
Alemanha recém unificada e pretendendo ao império ultramarino, Portugal
foi obrigado a ocupar o sertão, cujas campanhas de «pacificação» se
estenderam pelo princípio do Século XX. Salazar
reinventou depois o Império, baseado numa visão paternalista, cujo
«particularismo» escondia mal um profundo racismo, bem patente nas
políticas de aculturação e «assimilação» levadas a cabo. A abordagem,
que Adriano Moreira ainda tentou mitigar apostando numa intelectualidade
africana, acabaria inevitavelmente mal, prolongando-se por uma guerra colonial
ingrata, de mais de uma dúzia de anos, culminando na queda do regime e
numa brusca e desastrosa «descolonização».
Desde
muito cedo que o sistema colonial usou, na sua
narrativa, a imagem do preto (por exemplo em bilhetes-postais ou na Exposição do Mundo
Português de 1940), mas este era desprovido de voz (não nos referimos
apenas a limitações tecnológicas, como no cinema),
eventualmente, associado ao som do batuque, e apresentado como dócil
figurante. Os movimentos de libertação denunciavam a «coisificação» de
que o indígena era alvo e conduziram uma guerrilha militar que não
souberam transformar em luta política, de transformação, de
dignificação, de empoderamento do homem e da mulher africana. Num
continente martirizado, pseudo-elites constituídas em cleptocracias,
apoiadas pelos regimes ocidentais, prolongam uma agonia cujas feridas
cada vez mais infectadas e expostas, estão à vista de toda a gente, com
assassinatos xenófobos, boat-people apinhados, terroristas convertidos
em Estados...
É legítimo questionar até que ponto não
estamos perante uma profunda crise identitária. Não deveríamos antes
encarar a descolonização como um processo que continua em andamento?
Esse parece ser o
tema central do escritor angolano José Eduardo
Agualusa, ou, em relação a Moçambique, o que levou Cabaço a
concluir que «as políticas socialistas não foram capazes de romper radicalmente com a “sociedade colonial” nem tampouco consolidar a tal “identidade nacional”». Do lado de cá, a descolonização mental implica lutar contra o
preconceito que alimentamos contra a nossa própria História, cheia de
pequenas histórias. Na primeira década do século XVI, um príncipe do
Congo veio para estudar em Coimbra, onde se diplomou com distinção,
chegando a Cardeal, em Roma! Já no século XIX, poderíamos igualmente
lembrar Honório Barreto, guineense, mais patriota que muitos portugueses
indígenas, que chegou a Governador da Guiné, despoletando o espanto e
criando incrédulos pela Europa fora (um «preto» a dirigir uma
administração colonial?).
Aqui na minha cidade, em Santarém, muita gente que já levei a visitar a Igreja
do Hospital, fica surpreendida por saber que quem ali está enterrada,
em lugar de destaque, na Capela Mor, é uma «preta», uma riquíssima
«dona di tchom» de Cabo Verde e da Guiné, a qual, sem filhos, foi livre
para dispor do seu património e patrocinar a construção da igreja, em
meados do século XVII (convive curiosamente com Pedro Escuro, mas isso é outra história, bem mais antiga). E que dizer do Marquês de Sá da Bandeira,
defendendo a abolição imediata do tráfico de escravos, nas primeiras
décadas do Século XIX «é positivo que os habitantes portugueses das
províncias da África, da Ásia e da Oceânia, sem diferença de raça, de
cor ou de religião, têm direitos iguais àqueles de que gozamos nós
portugueses da Europa»? Desde muito cedo, no Império,
se manifestou uma alternativa «estratégica» (aliás duramente perseguida
por D. Manuel, que chegou a mandar matar «colonos» portugueses
desobedientes), na Guiné consistiu nos «lançados», aqueles que se
escapavam ao regime, obrigações e modo de vida colonial, para se
misturarem na vida local, acabando por se miscigenar. Outro bom exemplo
foi Pero da Covilhã, o erudito espião ao serviço de Dom João Segundo,
que face às notícias da morte do seu príncipe e Senhor, se deixou ficar
pela Etiópia, como conselheiro real, criando numerosa descendência de
vários casamentos. Ou outro homem de mão de Dom João Segundo, Afonso de
Albuquerque, o artífice do Império asiático, incentivava os seus
soldados a criarem raízes.
Nem devemos
pretender padronizar demais as narrativas oficiais, que foram marcando
(mas também sendo condicionadas) as épocas e os momentos,
emprestando-lhes um cunho hegemónico que não tiveram, pois sempre
existiram vozes discordantes, cujo bom senso se fazia ouvir, muitas
vezes a contra-corrente. Um inquérito racista cujo objectivo consistia
essencialmente em provar que os «pretos» tinham a idade mental das
crianças, desenvolvido para o Congresso Nacional de Antropologia
Colonial de 1934, desenvolvido junto de missionários, oficiais do
exército, médicos, funcionários e outras profissões, no qual se
inquiriam várias qualidades como aptidão para o trabalho, impulsividade,
moralidade, sugestibilidade, auto-controle, capacidade de decisão,
previdência, tenacidade, inteligência global e educabilidade, obteve
apenas 27 respostas... deveras interessante é que alguns dos inquiridos defenderam que
os brancos metropolitanos eram inferiores aos chinas e aos pretos da
Guiné! Não podemos pois compactuar com discursos
simplistas e redutores. Talvez devamos antes encarar com esperança os
sinais dos tempos: nomeadamente as novas narrativas de resistência e de
afirmação identitária, das quais o rap angolano, como agente de
comunicação de uma revolução inadiável das mentalidades, é um bom
exemplo, ao mesmo título que o Movimento Revu (revolucionário); ou ao
novo impulso que as novas tecnologias e o acesso às redes sociais
virtuais, vieram trazer à liberdade de expressão e de associação,
criando um novo espaço de intervenção política, cuja acção informada,
coerente, sustentável e, essencialmente, participada e partilhada na internet, tende a
assumir um papel cada vez mais relevante, magnificando uma nova
dimensão de activismo para uma cidadania global.

José Eduardo dos Santos aposta na perpetuação do preto burro! Todos os que ousarem pensar vão presos por «Golpe de Estado»! Libertem Luaty Beirão e Nito Alves!