Parece ter passado mais ou menos despercebida a segunda grande reportagem (ou veja em vídeo) do Público (em cinco, a próxima, a publicar no mês que vem, será dedicada a Cabo Verde), patrocinada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (pertencente à família que controla a Jerónimo Martins), dedicada ao racismo no contexto colonial português. A edição deste mês foi dedicada à Guiné-Bissau, depois de a anterior ter sido consagrada a Angola (incluindo uma reportagem a Luaty Beirão, antes da sua prisão). Julgo que é um excelente pretexto para uma discussão em profundidade, que permita uma verdadeira reconciliação de Portugal com a sua memória e os povos em questão, revelando como a (a)culturação não funcionou apenas num sentido.
Para responder à questão do racismo nos PALOP, a equipa fez em média uma vintena de entrevistas por país, dando destaque a intelectuais e activistas. Na Guiné-Bissau, foram entrevistados, entre outros/as, Abdulai Sila, Leopoldo Amado, e o jovem Dautarin da Costa. Polémico, mas assertivo, Leopoldo Amado defende que a colonização portuguesa só começou em 1936, contrariando lugares demasiado comuns como o mito recorrente dos «500 anos de colonização». Para além das profundas diferenças entre as várias colónias, Portugal
teve um colonialismo tardio, com uma duração inferior a um século: não se pode chamar soberania ao
tráfico efectuado em fortalezas, quando esta não ia
além do alcance de um tiro de canhão. Só por pressão da Alemanha recém unificada e pretendendo
ao império ultramarino, Portugal foi obrigado a ocupar o sertão, cujas
campanhas de «pacificação» se estenderam pelo princípio do Século XX.
Os coitados dos alemães (ou
sortudos, talvez por não terem tido propriamente mercados coloniais
protegidos, estão onde estão...), que chegaram atrasados, depois da sua
unificação, só começaram a sua experiência no fim do século XIX, depois
das conclusões do Congresso de Viena, na qual o Direito Internacional
deixou de reconhecer como legitimidade para a soberania o simples facto
de ter sido o primeiro a chegar (os portugueses), para passar a
basear-se na ocupação de
facto.
Portugal perderia, em pleno século XX, a oportunidade de se
distanciar e distinguir do modelo colonial europeu que nunca fora o seu. Salazar reinventou o Império, baseado numa visão paternalista,
cujo «particularismo» escondia mal um profundo racismo, bem patente nas
políticas de aculturação e «assimilação» levadas a cabo. A abordagem,
que Adriano Moreira ainda tentou mitigar apostando numa intelectualidade
africana, acabaria inevitavelmente mal, prolongando-se por uma guerra
colonial ingrata, de mais de uma dúzia de anos, culminando na queda do
regime e numa brusca e desastrosa «descolonização».
A Casa dos Estudantes do Império, aquele que estava desenhado para ser um clube da elite colonial indígena (esse era o plano ultramarino de Adriano Moreira como Ministro, durante algum tempo apoiado por Salazar: formar uma elite de quadros que pudesse vir a assumir os destinos das suas nações, mantendo os vínculos históricos que as uniam a Portugal), acabou por se tornar numa incubadora de líderes revolucionários. Desde
muito cedo que o sistema colonial usou, na sua narrativa, a imagem do
preto (por exemplo em bilhetes-postais ou na Exposição do Mundo
Português de 1940), mas este era desprovido de voz (não nos referimos
apenas a limitações tecnológicas, como no cinema), eventualmente,
associado ao som do batuque, e apresentado como dócil figurante. Os
movimentos de libertação denunciavam a «coisificação» de que o indígena
era alvo e conduziram uma guerrilha militar que não souberam transformar
em luta política, de transformação, de dignificação, de empoderamento
do homem e da mulher africana. Esse parece ser o tema central do escritor angolano Agualusa, ou, em relação a Moçambique, o que levou Cabaço a concluir que
«as políticas socialistas não foram capazes de romper radicalmente com a
“sociedade colonial” nem tampouco consolidar a tal “identidade
nacional”». Do lado de cá, a descolonização mental implica lutar contra o
preconceito que alimentamos contra a nossa própria História, cheia de
pequenas histórias.
Na opinião de Nelvina Barreto, «Portugal tem uma visão superficial e fragmentada da sua história colonial e é necessário perceber que teve políticas, intervenções e vivências diferentes nas suas diferentes colónias. A tendência é para se pensar que foi igual porque se fica na superfície. A colonização portuguesa não foi igual em todas as suas colónias. É isto que é necessário que Portugal esteja disposto a compreender melhor.» Não sei se a Nelvina é descendente de Honório Barreto, mas este merecia lembrança, neste contexto. Tal como Cabral, nascido de mãe guineense e pai caboverdeano, mas um século antes deste. Em colónias de franceses ou ingleses, seria impensável uma carreira como a sua; pura e simplesmente impossível um negro (para usar a terminologia do artigo) aceder ao cargo máximo da administração colonial, o de Governador da província (nomeado pelo Marquês Sá da Bandeira, que aboliu a escravatura). Envolveu-se em polémicas com políticos da Metrópole, a quem chegou a dar lições de patriotismo; funcionou como exemplo e expoente de uma certa «igualdade» de oportunidades e de respeito pelo mérito, devido independentemente da raça. Foi nomeado comendador da Ordem de Cristo, alta distinção honorífica.
Já no século XVI e XVII, não esquecer as poderosas Filhas do Chão, as quais impuseram a sua condição feminina e mestiça, e que viajantes franceses comentam com admiração por serem respeitadas em Lisboa. Uma delas está enterrada na Capela Mor da Igreja da Misericórdia de Santarém, que fundou com os lucros do comércio de Cacheu, conforme consta da respectiva lápide. Igualmente fundadora do Convento de São Francisco da Cidade Velha, o que a teria levado a fazer-se enterrar em Santarém, em lugar de destaque? Simples afirmação de poder anti-racista e anti-sexista? Ou algo mais? Ouso responder à polémica questão: sim, o «colonialismo» português foi diferente. Em primeiro lugar porque foi original. E poderia ter sido outra coisa. Bem sei que é um lugar comum que não se discute a história. Mas porque não havemos de discutir o passado? Se o futuro oferece um grande leque de opções em aberto, porque razão nos deveríamos contentar com explicações simplistas, sabendo que a história é forjada pelas conveniências dos «vencedores»?
É impossível, embora se tenha igualmente tornado num lugar comum, reduzir o colonialismo a «um» conceito. Há tantos quantos os países colonizadores, e entre estes, Portugal apresenta uma identidade bem marcada, com um contacto bastante mais antigo, tendo acompanhado o movimento quase por arrasto europeu. Os anos mais recentes (e frescos na memória, «raptados» pelo Estado Novo) não devem fazer esquecer toda uma história mais antiga, no qual as províncias tiveram diferentes percursos «mentais». Por isso a expressão «500 anos de colonialismo» (aliás, passam já 570, para a actual Guiné-Bissau) se revela tão irritante. Por pretender compactar, de forma consensual, uma história que não é redutível a etiquetas. O pior é que essa expressão é reflexo da cultura pronta a consumir, e não corresponde minimamente à realidade.
Se a política de assimilação do Estado Novo pode legitimamente ser acusada de humilhante e degradante para a cultura local, a historiografia colonial esquecia-se que no século XVIII, os Capitães Mores se queixavam de Luanda para Lisboa da «indecência» que era as brancas adoptarem os costumes locais e esquecerem até a língua portuguesa! De que são testemunho em 1765: «muito indecente que as famílias nobres e brancas conservem nas suas casas e na criação dos seus filhos uma total ignorância da referida língua [portuguesa], privando-os na sua educação do aproveitamento que podião conduzir-lhes a lição dos bons livros, para haverem substituída com a lingua ambunda, só necessária no sertão», ou, duas décadas mais tarde, demonstrando a continuidade do domínio do kimbundo, o ouvidor geral de Angola declarou que «entre as coisas que me parecem abuso nesta cidade e conquista é o idioma geral da língua ambunda, devendo ser a portuguesa, e sabe-la mulatos e pretos, que de ordinário nem a entendem [...] As mulheres são educadas pelas negras, sem prendas, nem religião, que lhe transmitem o seu idioma, costume e sentimentos, e assim ficam muitas sem falarem nem entenderem o português».
O Presidente angolano, reconhecia há pouco tempo que o primeiro século de contacto havia sido de tolerância e benéfico para ambas as partes. Quando Dom João II assumiu os Descobrimentos, novas orientações foram dadas, no sentido de se proibirem os «filhamentos» (raptos de escravos), cujos maus resultados se conheciam pelos relatos do Cronista régio Azurara. A troca de embaixadores com o reino do Congo, o envio de dois príncipes para estudarem em Portugal (um deles passou por Coimbra e chegou a Cardeal em Roma), mostra que muitas ideias preconcebidas sobre racismo não têm fundamento. Um belo exemplo do século XVI é o luso-guineense André Álvares d'Almada, que omite a sua origem africana (que justifica o profundo conhecimento das coisas locais) e chega a adoptar um discurso racista adaptado aos destinatários, com o nobre objectivo de lutar contra a prática da escravatura e pelo respeito cultural.
Nem devemos pretender padronizar demais as narrativas oficiais, que foram marcando (mas também sendo condicionadas) as épocas e os momentos, emprestando-lhes um cunho hegemónico que não tiveram, pois sempre existiram vozes discordantes, cujo bom senso se fazia ouvir, muitas vezes a contra-corrente. Um inquérito racista cujo objectivo consistia essencialmente em provar que os «pretos» tinham a idade mental das crianças, desenvolvido para o Congresso Nacional de Antropologia Colonial de 1934, desenvolvido junto de missionários, oficiais do exército, médicos, funcionários e outras profissões, no qual se inquiriam várias qualidades como aptidão para o trabalho, impulsividade, moralidade, sugestibilidade, auto-controle, capacidade de decisão, previdência, tenacidade, inteligência global e educabilidade, obteve apenas 27 respostas... deveras interessante é que alguns dos inquiridos defenderam que os brancos metropolitanos eram inferiores aos chinas e aos pretos da Guiné!
Como defende Leopoldo Amado, na já referida reportagem, é esquecer que «os portugueses, eles próprios, assimilavam valores
africanos. Os colonos que se deixavam levar pela cultura africana e
viviam com os africanos eram considerados ‘cafre’, o termo para
classificar as pessoas que se tinham degenerado, e eram considerados do
ponto de vista religioso como almas perdidas porque se submetiam à forma
de estar do africano — aliás, criou-se o termo ‘cafrealização’.» Eram os lançados, ou tangomaus, que a Coroa desde cedo perseguiu (em 1517 Dom Manuel ordena a morte dos comerciantes portugueses nos rios da Guiné) por violarem o seu Monopólio, vendendo a quem desse mais (barcos estrangeiros) e tornando-se contrabandistas. Assumiam os costumes locais, misturavam-se e reproduziam-se. Outro bom exemplo foi Pero da Covilhã, o erudito espião ao serviço de Dom João Segundo, que face às notícias da morte do seu príncipe e Senhor, se deixou ficar pela Etiópia, como conselheiro real, criando numerosa descendência de vários casamentos. Ou outro homem de mão de Dom João Segundo, Afonso de Albuquerque (da Ordem de Santiago, como D. João II, e seu capitão da guarda), o artífice do Império asiático, que incentivava os seus soldados a criarem raízes, casassem com indianas e constituíssem família, criando assim focos, pontes de contacto entre os povos.
 Hoje, quarta-feira, dia 16 de Dezembro de 2015, volvidos 500 anos sobre o seu passamento deste mundo. dedico esta reflexão ao Grande Capitão e Vice-Rei Dom Afonso de Albuquerque, que Deus tenha em Sua santa Glória. Nada melhor que um estrangeiro, o italiano Corsali, que com ele conviveu pouco antes de morrer e imprimiu em Florença, no ano de 1516, as seguintes palavras que lhe são dedicadas: «Capitano passato, huomo à tempi nostri prudentissimo et audace et in ogni impresa vittorioso».
Hoje, quarta-feira, dia 16 de Dezembro de 2015, volvidos 500 anos sobre o seu passamento deste mundo. dedico esta reflexão ao Grande Capitão e Vice-Rei Dom Afonso de Albuquerque, que Deus tenha em Sua santa Glória. Nada melhor que um estrangeiro, o italiano Corsali, que com ele conviveu pouco antes de morrer e imprimiu em Florença, no ano de 1516, as seguintes palavras que lhe são dedicadas: «Capitano passato, huomo à tempi nostri prudentissimo et audace et in ogni impresa vittorioso».
Há uma questão identitária implícita muito importante, nesta reportagem, que até aqui era de certa forma tabu, até pelos traumas da Guerra Colonial. No entanto, feita a catarse (o melhor exemplo e mais conseguido exemplo é o blog de Luís Graça), é preciso avançar na ideia. O que é ser português?
Veio-me à lembrança uma visita que efectuei a Olivença, há mais de um quarto de século. Depois de ter passado pelas ruas e lamentado os brasões lisos de quinas picadas a escopro, estava a admirar a bela torre de Dom João II (que era o principal motivo da minha visita) quando fui abordado por um habitante de Olivença que me perguntou se sabia quem tinha mandado alçar a torre (ora essa! andava eu a estudar arquitectura militar, então não haveria de saber...). Um sorriso do tamanho do mundo iluminou-lhe o olhar, e disse-me então que gostava de estar por ali para dizer aos visitantes quem tinha sido Dom João II! Perguntei-lhe se era de Olivença, disse-me que sim e que apesar do BI espanhol, a família sempre se considerara, ao longo das gerações, como portuguesa. Ser português não é uma questão de Bilhete de Identidade. Decerto há melhores portugueses entre os habitantes de Malaca que o inquilino de Belém, que deixou passar várias efemérides de 2015 sem uma palavra de recordação...
PS Um dos 100 homens mais influentes do mundo este ano, segundo a Time, tem Fernandes por nome de família. Também a Índia teve um Ministro da Defesa com esse nome...
Há 1 hora
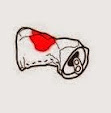
2 comentários:
Nas ilhas atlânticas, muito há igualmente para contar. Em Cabo Verde, estou curioso para descobrir se a reportagem levanta a interessante pista da costela judaica.
Ainda há muito tabu e muitos complexos, principalmente quando se fala e escreve sobre a chamada guerra de libertação/guerra do Ultramar.
Há poucos africanos novos a escrever, e sabemos que há muita gente com capacidade, mas precisa sair do armário.
Mas penso que essa lacuna aparece na África em geral.
Talvez seja por falta de coragem, ou receio ao politicamente incorreto.
Enviar um comentário